*Clara Araújo
Apesar de as mulheres brasileiras terem conquistado o direito ao voto há 78 anos, e representarem 51% da população – e quase 44% da população economicamente ativa do país –, sua participação na política e nos espaços de poder ainda é pequena. Por isso, as candidaturas à presidência de Dilma Rousseff, pelo Partido dos Trabalhadores, e de Marina Silva, pelo Partido Verde, sinalizam um avanço e refletem um movimento ainda lento de ocupação de espaços públicos pelas mulheres. A ainda insuficiente representação feminina no campo – temos apenas três governadoras e, na Câmara dos Deputados, 8% são mulheres (o que faz com que o Brasil ocupe a 109º lugar no ranking de participação de mulheres nos parlamentos feito pela Inter-Parliamentary Union, ficando atrás do Haiti, Guatemala e Honduras) – é na verdade uma marca histórica e que deve ser entendida dentro de um contexto mais amplo.
A França foi o berço da construção da democracia moderna e da representação política, e o maior debate após a revolução de 1789 foi se as mulheres entrariam ou não como cidadãs, direito este que lhes foi negado. Esta ausência explícita era explicada através de argumentos biologizantes, segundo os quais as mulheres seriam mais sensíveis e os homens, mais racionais. Diziam até mesmo que elas teriam um cérebro menos capaz e seriam mais conciliadoras, tendendo a não conseguir enxergar conflitos políticos. Essa construção institucionalizada, fundamentada em argumentos filosóficos e biológicos, foi se consolidando e associando o homem ao “fazer política”. Isso teve impactos no Ocidente, e no momento que surgem as outras democracias – como os países da América Latina –, a visão de que política é um espaço associado ao masculino se consolidou e se naturalizou.
A República brasileira se constrói sem o voto das mulheres, embora tivéssemos defensores homens da participação das mulheres desde os tempos do Império. Mas este movimento de emancipação não foi só em relação à política – elas tentaram entrar na faculdade e este direito também foi negado. Até que em 1932 finalmente foi lhes dado o direito ao voto. As mulheres entram já com déficits simbólicos e concretos, numéricos, portanto, sendo obrigadas a deslocar quem já estava “no lugar” da política – os homens. Mas, embora o Brasil não seja um dos países mais atrasados em conceder o sufrágio universal, se olharmos outros países que deram cidadania política às mulheres posteriormente, ainda assim veremos que, neste campo, estamos menos avançados.
Contudo, as duas últimas décadas foram marcadas por avanços significativos no mundo e na América Latina em particular. Nas eleições presidenciais de 2007 na França, onde somente em 1945 a mulher passou a ter o direito ao voto, Marie Ségolène Royal concorreu com boas chances. A Alemanha tem uma primeira-ministra. Em vários países latino-americanos tivemos mulheres eleitas nesta última década e são 12 os países com leis de cotas, que reservam uma porcentagem de vagas em seus partidos às mulheres, três deles governados por presidentas – Argentina, Costa Rica e Chile (que, além de eleger Michele Bachelet para a presidência, tem ministérios de ampla participação feminina).
Não há dúvidas, no entanto, que se por um lado ainda existe um déficit em relação à presença das mulheres na política, por outro elas vêm ocupando cada vez mais espaços nas últimas décadas, especialmente no mundo de trabalho. Há imperativos econômicos – necessidades de ganhar dinheiro, aspirações individuais, independência e autonomia econômica – e com isto, um certo ethos de direitos iguais entre homens e mulheres que vai se disseminando, isto, claro, resultado de muita luta e pressão dos movimentos feministas. A imagem da mulher dona-de-casa e do homem provedor, embora ainda persista, na prática é um mito, pois quase metade de toda a força de trabalho do país é composta de mulheres. Mas embora sejam raras as famílias atualmente onde só os homens são provedores, esta percepção permanece e o que vemos, por exemplo, nas propagandas, é a imagem da dona-de-casa feliz, cuidando de sua cozinha e esperando o marido para jantar.
Se o ethos a que me referi vai se disseminando, o fato é que ainda existe essa percepção dual – homem provedor e mulheres cuidadoras – que tem efeitos maiores nas atitudes práticas. Mulheres trabalham muito, particularmente na América Latina, mas seu trabalho feito no âmbito doméstico e/ou não pago não é reconhecido como tal (Arriagada, 2004). E enquanto as mulheres cada vez mais passaram a trabalhar fora, os homens entraram muito pouco nos trabalhos domésticos. Pesquisa feita na França (Hirata, 2002) constata que – comparando dois momentos em torno de 13 anos de diferença – os homens aumentaram entre 10 e 20 minutos seu tempo no envolvimento com o trabalho doméstico e as mulheres aumentaram em cerca de 2 horas seu envolvimento com o trabalho externo. No Brasil, pesquisa nacional sobre atitudes e práticas em relação à divisão sexual do trabalho doméstico constatou algo semelhante: as percepções sobre o direito de as mulheres trabalharem fora e serem autônomas estão bem mais igualitárias se comparadas a décadas anteriores, mas as atitudes não acompanham tais percepções e são as mulheres, quer trabalhem ou não, que realizam o trabalho doméstico. Mesmo se tratando de um país desenvolvido, vemos que há ainda uma desigualdade nesta proporção. Isso está associado a valores culturais. Tal discrepância existe também no Japão, país onde a hierarquia cultural tem um enorme impacto nas relações de trabalho entre homens e mulheres (Araújo, Picanço e Scalon, 2007).
Por outro lado, no mundo moderno, é através da política que a vida se legitima socialmente, e qualquer mudança social exige uma legislação que a legitime. Um exemplo disso é a Lei Maria da Penha, criada para coibir a violência de gênero. Sendo assim, se as mulheres não estiverem lá, elas não terão voz nem poderão colocar suas questões como questões importantes. Outro exemplo: a legislação do trabalho preconiza as 8 horas diárias. Mas a humanidade se reproduz através dos filhos, e estes, ao nascer, necessitam de cuidados. Se o cuidado materno é essencial nos primeiros meses, ele pode, perfeitamente, ser compartilhado e dividido a partir de alguns meses. Mesmo que esse cuidado seja pensado ou viabilizado através de instituições como creches, estas, no Brasil, além de escassas, em geral não são de tempo integral, quando públicas. Ora, alguém tem que cuidar das crianças quando voltam para casa ou estão em casa, assim como dos idosos e enfermos. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e de todas as estatísticas mundiais mostram que as famílias estão menores. Como resolver esse problema que é uma tendência? Há também o envelhecimento da população. Como essa população idosa vai ser cuidada? O cuidado necessita ser visto como parte das relações sociais do mundo contemporâneo. A demanda pelo reconhecimento das atividades do cuidado como atividades da reprodução da vida social não pode ser vista como algo particular e privado das mulheres. Se a vermos como um problema particular, estaremos ampliando a sobrecarga familiar e doméstica a que essas mulheres já estão submetidas. Mas elas, estando inseridas nos espaços políticos, terão maior capacidade de mudar esse quadro e tornar visíveis essas vicissitudes, não porque sejam melhores do que os homens, mas porque vivem e enfrentam tais problemas.
Há que se considerar, por outro lado, que ainda há um traço forte maternalista na política brasileira. A conquista da ampliação da licença maternidade de 4 para 6 meses é um avanço e algo muito importante, mas e a paternidade, onde entra? Os estímulos nas empresas são também para que mulheres conciliem “suas” atividades familiares com o trabalho, mas não há estimulo para que os homens fiquem em casa – talvez uma idéia seria reduzir uma hora por dia de trabalho quando a criança for pequena, a qual seria compensada posteriormente. É importante para uma criança ter acesso ao convívio com o pai e a mãe, e o lado institucional não supre tal carência. Então, se não queremos ter o mercado como paradigma, é importante reconhecer que isso é parte da vida, ou seja, cuidar, conviver e exercer certas atividades necessárias à sobrevivência. O conceito de biparentalidade ajuda a repensar essa visão maternal que ainda existe.
É essencial as mulheres ocuparem os espaços políticos porque algumas dessas questões são invisibilizadas na vida pública. No campo político, no entanto, existem diversos fatores que dificultam a ampliação da participação das mulheres. Quem já ocupa os espaços são os homens. Não se trata só de dizer que elas não têm tantos recursos financeiros quanto os homens para bancarem suas candidaturas, e sim de que elas não têm espaço para pleitear um lugar ocupado por pessoas que já estão lá. Um indivíduo homem que já é candidato tem 25 vezes mais chances de se eleger, enquanto a mulher tem 16 vezes mais (Araújo e Alves, 2007). Há o problema do sistema eleitoral porque temos um sistema de lista aberta no qual a competição é entre candidatos e, como as mulheres tendem a ter menos recursos, menos redes e menos tempo, elas saem em desvantagem nessa corrida, fruto da cultura política do país e das desigualdades sociais.
Mas este ano temos um fato inusitado e que pode ajudar a mudar esse cenário. Temos duas mulheres concorrendo à presidência da República, falando de questões importantes. Pode ser um estímulo para que outras mulheres arrisquem também. E para ampliarem os temas e discursos. Mulheres falam de questões importantes, mas se mantêm no círculo restrito do ponto de vista da agenda política.
Através de uma pesquisa que realizei sobre o conteúdo dos discursos das mulheres percebi que elas ficam num certo nicho: todas elas falam de educação, família e saúde. Ou seja, muitas falando e competindo em torno do mesmo discurso, que embora seja muito relevante, não é valorizado como um discurso estratégico. Do ponto de vista de um programa de governo, a questão do planejamento e da Economia sinaliza um discurso mais estratégico. Dilma Rousseff tem uma certa expertise nesses campos, ela foge ao traço comum esperado das mulheres, pois sempre lidou com essas áreas. Marina Silva fala de um tema também estratégico – a questão do meio ambiente, e isto hoje em dia se traduz como sustentabilidade, está na ordem do dia. É necessário abrir mais campos para que as mulheres possam vir de diferentes lugares, reconhecer determinadas questões e intervir na cena pública como interlocutoras legítimas em todas as áreas. Esses são desafios postos pelas mulheres. Por outro lado, elas têm apresentado interessantes temáticas para pensarmos sobre o que deve compor a qualidade de vida da sociedade. Se pensarmos bem, esta é a melhor tradução do que é política.
*Clara Araújo é professora do Programa da Graduação e Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (PPCIS/UERJ) e coordenadora do NUDERG. Possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1985), mestrado em Sociologia e Antropologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1991), doutorado em Sociologia e Antropologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1999) e Pos-doutorado pelo IUPERJ (2008).
Referências bibliográficas:
- ARAÚJO, Clara; PICANÇO, Felícia & SCALON, Celi. (2007). Gênero, família e trabalho em perspectiva comparada. Bauru: EDUSC, 2007.
- Araújo, Clara e Alves, José Eustáquio Diniz( 2007) “Impactos de indicadores sociais e do sistema eleitoral sobre as chances das mulheres nas eleições e suas interações com as cotas”. In: Dados,
ARRIAGADA, I. (2004), “Estructuras familiares, trabajo y bienestar em América Latina”, in Cambio de las Famílias, Santiago, Cepal/UNFPA.
HIRATA, Helena. “Reorganização da Produção e Transformações do Trabalho: uma Nova Divisão Sexual?” In: Bruschini e Umbehaum (orgs.) Gênero, Democracia e Sociedade Brasileira. São Paulo, Fundação Carlos Chagas e Editora 34, 2002.
domingo, 9 de maio de 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)






























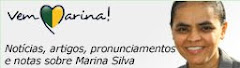






Nenhum comentário:
Postar um comentário